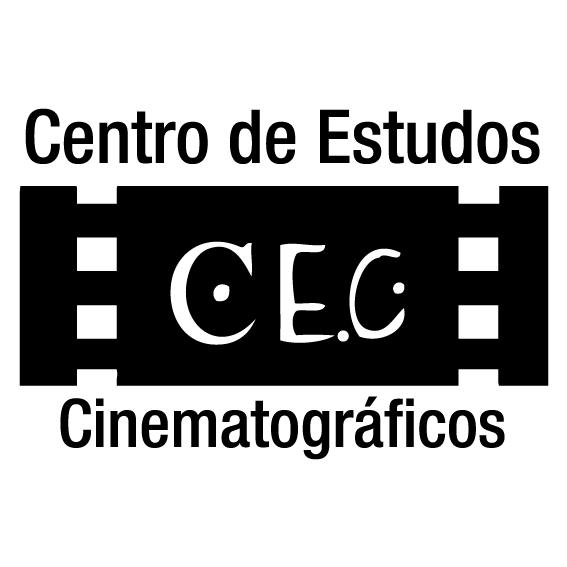Escrevo sobre Isabel Ruth desde um lugar de memória, a memória dos filmes que me habitam, memória inscrita no passado geral e, por vezes, deste indestrinçável. Escrevo sobre a grande actriz portuguesa a partir de um bloco concreto de memória, voltando ao momento em que, aos dezoito anos, vi, pela primeira vez, Os Verdes Anos (1963), de Paulo Rocha, na Cinemateca Portuguesa. Se o acto de rememoração é indissociável do processo paralelo de esquecimento, essa primeira visão só pode ser descrita como um arrebato sinestésico. Já não recordo claramente os contornos da intriga ou a estrutura cénica, mas prevalece — e repete-se, com distintos graus de intensidade, a cada nova invocação — a exaltação sensorial de que fui presa ao ver a delicada sequência do baile, os corpos dançantes de Ilda (Isabel Ruth) e de Júlio (Rui Gomes) nessa Lisboa onde, segundo João Bénard da Costa, “tudo se frustra e tudo agoniza numa morte branda”. No presente, horizonte temporal em que se conservam e acumulam capas de passado, esse instante supera a experiência vivencial cinematográfica para devir plenamente parte dos meus próprios “verdes anos”. Se é certo que a memória dessa experiência original da opera prima de Rocha se reestrutura a cada novo visionamento, a figura de Isabel Ruth fará para sempre parte não só da minha memória cinematográfica, como também da minha memória afectiva.
Saiba mais na seguinte ligação: Isabel Ruth, o acto ou a faculdade de ver.